Opa! Zara aqui.
Esta é mais uma edição aberta da Além da Dopamina, onde trago um toque de humanidade para tempos de pressa e plástico
No Clube Viventes você tem acesso a aulas mensais e publicações exclusivas.
Caso tenha perdido as últimas edições:
Quando a máquina esfria alma
O mundo não é coisa
Tempo de leitura: 12 minutos.
Cheguei tarde à literatura.
Por muito tempo acreditei que não deveria desperdiçar tempo com historinhas, e por isso perdi anos lendo apenas livros técnicos ou de autoajuda com capa de pseudofilosofia.
Até li alguma coisa quando criança, mas parei, sem algum motivo que me lembre.
Já na vida adulta, um dos primeiros romances que li foi O Código Da Vinci, seguido de outros do Dan Brown — com suas narrativas iguais e personagens parecidos. Até arrisco dizer que essa literatura efêmera tem seu valor.
Desde então venho tentando tirar o atraso por ter começado tarde.
Parte da minha biblioteca se perdeu nas mais de uma dúzia de mudanças dos últimos anos. Porém, a mais antiga está na casa dos meus pais, onde passamos o último final de semana.
Visitando este Zara do passado, encontrei O Inferno1. Não este, do qual espero escapar, mas o primeiro livro em inglês que comprei quando morei no Canadá. Ele ainda tinha uma folha de Maple entre suas páginas. Dan Brown havia acabado de lançá-lo.
Um encontro que reacendeu em mim uma inquietação que carrego há pelo menos uma década:
Se todos concordam que ler é importante, por que lemos cada vez menos?
Não quero aqui colocar panos quentes nos efeitos das telas, da fragmentação da atenção e do estrago que a tecnologia causou em nossos cérebros, mas não estou convencido de que esta seja a única razão de estarmos lendo menos.
A verdade é que “ler menos” nem é um diagnóstico preciso.
Afinal, nunca lemos tanto. Porcaria em grande parte, concordo. Mas é inegável que é fácil gastar o dia lendo fragmentos de textos enquanto navegamos na internet, acompanhamos fofocas e checamos mensagens.
Mas nenhuma dessas atividades é leitura no sentido a que me refiro.
Ler um e-mail ou as legendas de um vídeo é diferente da atividade de ler como a descreverei neste texto. Ler é um ofício, uma prática. E meu objetivo é explorar o que nos torna um leitor melhor.
Sabemos que estamos lendo menos e pior, mas qual é a raiz do problema?
A incapacidade gringa
Não que cada mão brasileira segure um livro — longe disso —, mas nosso complexo de vira-lata nos faz acreditar que o problema é uma exclusividade nossa e de outros países abaixo da linha do Equador.
Mas a lama da incapacidade de leitura se espalha por todos os lados.
Um artigo recente da The Atlantic apontou como estudantes das mais renomadas escolas norte-americanas — e do mundo — perderam a capacidade de ler.

Este trecho, de tradução livre minha, aponta como o problema não é falta de vontade, é falta de capacidade mesmo:
“Muitos estudantes não chegam mais à universidade preparados para ler livros — mesmo em universidades altamente seletivas e de elite. [...] Não é que eles não queiram fazer a leitura. É que eles não sabem como. O ensino médio e fundamental pararam de exigir isso deles.”
Estamos falando da elite da educação mundial, de pessoas que em teoria leem muito. Mas são incapazes de leituras longas, e de absorver qualquer coisa que não esteja em uma linguagem técnica.
Há um problema maior do que o da atenção e da falta de hábito.
A pátria educadora
Um modelo educacional cujo aluno reprovado sobrecarrega um sistema que premia a quantidade em detrimento da qualidade tira dos professores qualquer preocupação com a formação dos estudantes.
Basta uma conversa rápida com um professor para entender o caos da educação. Se nunca teve esta prosa, recomendo.
Além disso, os apenas 12% de brasileiros proficientes na própria língua mostram que os educadores deveriam parar de fazer seja lá o que estejam fazendo nas escolas.
A pátria educadora foi mesmo muito eficaz em formar uma nação de estudantes — que nunca deveriam ter saído das salas de aula. Uma nação que comemora as estatísticas de uma geração em que poucos são capazes de entender uma frase ou interpretar um gráfico.
Há ainda a ideia da educação apenas como obediência civil e a formação do bom profissional.
Com o pó de giz, desapareceu das escolas e da vida das crianças a preocupação com a formação humana. Até os pais mais preocupados se limitam a pagar uma “boa escola”, onde deixam suas crianças pela manhã e buscam à noite para dormirem em casa — pelo menos por enquanto.
Um tempo guiado pelo imediatismo, pela ciência e a tecnologia que transformou a educação na mera busca pela formação para a utilidade — e que esqueceu a literatura.
Literatura como entretenimento
Contrariando séculos de tradição pedagógica, a literatura foi empurrada para a categoria de coisa para se fazer quando não há mais nada para ser feito.
Um entretenimento dos menos animadores, sejamos honestos. Se é para “matar” o tempo, o que há de melhor do que o feed infinito de uma rede social?
Claro que há prazer na leitura. No entanto, é o tipo de prazer que demanda esforço antecipado, que só ao final deixa o leitor mais revigorado.
Além disso, encarar a literatura apenas como entretenimento sacrifica seu valor no altar da produtividade, pois em um mundo ocupado, ler tornou-se um instrumento de aquisição de informação — e só.
Se a leitura não me entrega um método, um framework, um passo-a-passo, para que ler?
Leitura informacional
Não que ela não seja isso, mas não é só isso.
Era através da leitura, reflexão e internalização das histórias dos heróis contadas em Ilíada e Odisseia, por exemplo, que boa parte da juventude helênica aprendia o que era ser humano de verdade, ou seja, ser virtuoso.
Tratava-se do modelo fundamentado no exemplo, não no conceito.
Em palavras mais atuais, Antoine Compagnon2 reforça o enfoque humanizador da literatura:
“Ela [a literatura] permite acessar uma experiência sensível e um conhecimento moral que seria difícil, até mesmo impossível, de se adquirir nos tratados dos filósofos. Ela contribui, portanto, de maneira insubstituível, tanto para a ética prática como para a ética especulativa.”
Veja ainda o que nos diz Henri Bergson3:
“O poeta e o romancista divulgam o que estava em nós mas que ignorávamos porque faltavam-nos as palavras.”
Ou ainda Tzvetan Todorov4, que em seu livro A Literatura em Perigo pondera como o desenvolvimento prodigioso da crítica e da teoria literária ao longo do último século acabou tornando a grande literatura quase inacessível ao público comum:
“Que melhor introdução à compreensão das paixões e dos comportamentos humanos do que uma imersão na obra dos grandes escritores que se dedicam a essa tarefa há milênios?”
Não seriam estes casos isolados?
Não, há uma longa lista de pensadores pós-modernos que reforçam e aprofundam esta tendência de resgate da literatura como forma de conhecimento do ser humano e de desenvolvimento da nossa humanidade.
Entretanto, muitas das nossas tentativas são falhas.
O livro não lido
Encomendamos frustração ao abrir um romance, um ensaio filosófico ou uma crônica com a mesma expectativa de quem abre um manual de instruções. Um problema de configuração mental cujo culpado não tem rosto: fomos letrados no tecnicismo e no pragmatismo.
Uma mentalidade que torna inacessível boa parte do que os textos têm a oferecer.
Entramos em uma épica batalha, exigindo do texto algo que ele não pode dar. Cansados de lutar com as armas erradas, desanimamos. E com isso, até o caminhar da formiga pela mesa merece mais aplauso. Desistimos. Não por falta de vontade, mas por incapacidade.
Mas não precisa continuar assim.
Eu leio devagar. Um livro que levo um mês para ler, outros dizem ler em um fim de semana. Sei que é importante saber ler rápido, mas nem sempre. Gosto da paciência de alguns livros.
Surgiu assim o que chamo de Slow Reading Dialógico.
Slow reading dialógico
A leitura não como busca efêmera por informação, mas uma experiência de reconexão com o humano pela linguagem. Que busca viver o texto, ao entrar em uma conversa com aquilo que o autor nos deixou.
Uma experiência estética completa que nos tira da anestesia da vida moderna e nos reconecta com questões fundamentais da existência humana — e isso só acontece quando lemos devagar, dialogamos e vivemos profundamente.
A ideia de ler mais devagar pode parecer estranha em tempos de leitura rápida e muita informação. Talvez seja por isso que escolho desacelerar.
Entretanto, não se trata apenas de diminuir a velocidade, trata-se de uma abordagem contemplativa que prioriza a qualidade da experiência de leitura sobre a quantidade de informação consumida.
O conceito de Slow Reading foi popularizado por John Miedema5 que propõe que “uma parte maior do ser" esteja envolvida no processo.
É uma resposta direta à cultura da velocidade informacional, onde textos são escaneados ou resumidos com IA em busca de dados, perdendo a dimensão estética e reflexiva da linguagem — e todo seu papel na formação humana.
Afeto, razão e vontade
É somente quando a leitura envolve as dimensões afetiva, cognitiva e volitiva do leitor é que conseguimos acessar camadas mais profundas da obra e assim recuperar o prazer da leitura.
Uma abordagem que não se encaixa no hype da leitura dinâmica e tampouco é para os colecionadores de livros lidos.
Confesso que ainda tenho dificuldade em ler pelo puro prazer da leitura. Estou sempre buscando alguma utilidade prática para o texto que tenho em mãos.
Contudo, foi-me de grande valor perceber que ler não é uma atividade puramente cognitiva, que é acima de tudo uma atividade estética.
Cognição estética
É preciso ir além da racionalidade pura. A cognição estética é uma forma de conhecer o mundo através dos sentidos.
Não se trata de uma alternativa esotérica ao pensamento racional, mas um complemento fundamental para uma compreensão mais plena da experiência humana.
Representa, portanto, um modo particular de processamento mental que integra sensibilidade, intuição e razão para compreender textos literários não apenas como portadores de informação, mas como experiências estéticas completas.
Cabe a cognição estética operar como um mecanismo de mediação entre percepção sensorial e formação conceitual, por meio de complexos processos mentais que incluem percepção, cognição, emoção e memória.
É nesse terreno que a cognição estética encontra sua plenitude: quando deixa de ser apenas percepção e se torna um modo de viver o texto, e não apenas compreendê-lo.
Quando a cognição estética encontra sua expressão mais plena, ela se manifesta através da fruição.
Fruição
Diferentemente do conhecimento conceitual direto, a fruição permite uma forma de conhecimento que é transformadora e imanente, mantendo a tensão entre sensibilidade e racionalidade.
Fruição é o conceito-chave que diferencia a experiência estética do consumo informacional.
Enquanto o consumo visa apropriar-se do conteúdo, a fruição busca vivenciar o processo. Na literatura, fruição significa permitir-se ser transformado pela leitura, estabelecendo uma relação contemplativa e dialógica com o texto.
A fruição literária, portanto, implica abertura para o imprevisto, para questões que o texto suscita e não necessariamente resolve. E ao nos abrir para o imprevisto, prepara o terreno para o verdadeiro diálogo.
Diálogo
A leitura nesta perspectiva representa o encontro vivo entre duas consciências através da linguagem.
A comunicação unidirecional, onde o texto simplesmente transmite informações ao leitor, dá lugar a uma troca genuína: o autor oferece sua visão de mundo através da obra, enquanto o leitor contribui com suas experiências, questionamentos e interpretações.
O texto reverbera em nosso ser.
Neste processo dialógico, o texto deixa de ser um objeto inerte para se tornar um espaço de encontro humano. Um humano inteiro, em todas as suas faculdades.
Entendido até aqui, surge a dúvida de como aplicar estes conceitos nas suas leituras.
Manual do Slow Reading Dialógico
É provável que você esteja esperando um manual, pois eu estou tentado a criá-lo. Mas não estou convencido de que a solução para um problema com origem no tecnicismo resida na técnica.
Além disso, como é algo que pratico, e nunca tive de explicar, ainda carrego dúvidas se é possível ensinar sem a convivência. Sem mencionar que não há nada mais insuportável do que um juiz de leitura alheia, que coloca regras em lugares onde elas não deveriam existir.
Estou mais inclinado a mostrar como faço do que a explicar o que você precisa fazer. E, talvez, o que mais precisamos não seja de um manual, mas de contato humano.
Como raramente tenho alguém para conversar sobre minhas leituras, geralmente escrevo minhas impressões — não para publicar, mas para entender.
Agora que este será um tema central por aqui, pensei em começar a organizar textos, gravar áudios ou vídeos sobre minhas leituras.
Se eu fosse compartilhar este material, qual seria o melhor formato?
Para mim, hoje, apesar da pilha de livros por ler só crescer, caminhar pelas páginas de um único livro vale mais do que correr por uma biblioteca inteira.
Mesmo chegando atrasado à literatura, tenho preferido os livros que pedem pausa aos que pedem pressa; certo de que alguns livros levamos para um passeio, outros para a vida.
E como disse Ítalo Calvino6:
“Porque, se as coisas que a literatura pode ensinar são pouco numerosas, por outro lado, elas são insubstituíveis”.
Das poucas coisas — ou seriam muitas? — que a literatura pode nos ensinar, sei que é na literatura que encontro a saída do inferno que é viver sem minha humanidade.
Um abraço,
Escrevo sobre ser humano em tempos de pressa e plástico.
Eu até poderia explicar como funciona o Clube Viventes, mas prefiro que você assista a esta aula aberta sobre O valor invisível do trabalho, em que fui da arte à inteligência artificial em uma travessia entre cópia, trabalho e autenticidade.
Influências, leituras e referências
A Literatura Como Remédio, Dante Galian (2020).
Slow Reading, Jonh Miedema (2009).
Slow Reading in a Hurried Age, David Mikics (2013).
Literatura para quê?, Antoine Compagnon (2009).
A Literatura em Perigo, Tzvetan Todorov (2007).
The lost art of reading, William Robertson (1904).
A Obra de Arte Literária, Roman Ingarden (1978).
How to Read Slowly: Reading for Comprehension, James W. Sire (1931).
Notas
"Inferno" de Dan Brown (2013), quarto livro da série Robert Langdon.
Antoine Compagnon é crítico literário e professor francês, especialista em literatura moderna. A citação é de "Literatura para quê?" (2009).
Henri Bergson (1859-1941) foi um filósofo francês, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura em 1927. Suas ideias sobre intuição, memória e duração influenciaram profundamente a filosofia e a literatura do século XX.
Tzvetan Todorov (1939-2017) foi um filósofo, historiador e crítico literário búlgaro-francês. "A Literatura em Perigo" (2007) é uma de suas obras mais conhecidas, onde defende o valor humanístico da literatura contra sua instrumentalização acadêmica.
Jonh Miedema é autor de Slow Reading (2009) e propõe a leitura como prática contemplativa, capaz de engajar o leitor integralmente — corpo, mente e espírito — em contraposição ao consumo fragmentado de textos. Mais do que um manifesto, é uma defesa da leitura como experiência humana plena.
Ítalo Calvino (1923-1985) - Escritor italiano, uma das principais figuras da literatura mundial do século XX. A citação provém de "Por que ler os clássicos" (1993), coletânea de ensaios sobre literatura onde Calvino reflete sobre a importância da leitura e o valor permanente dos grandes textos literários.




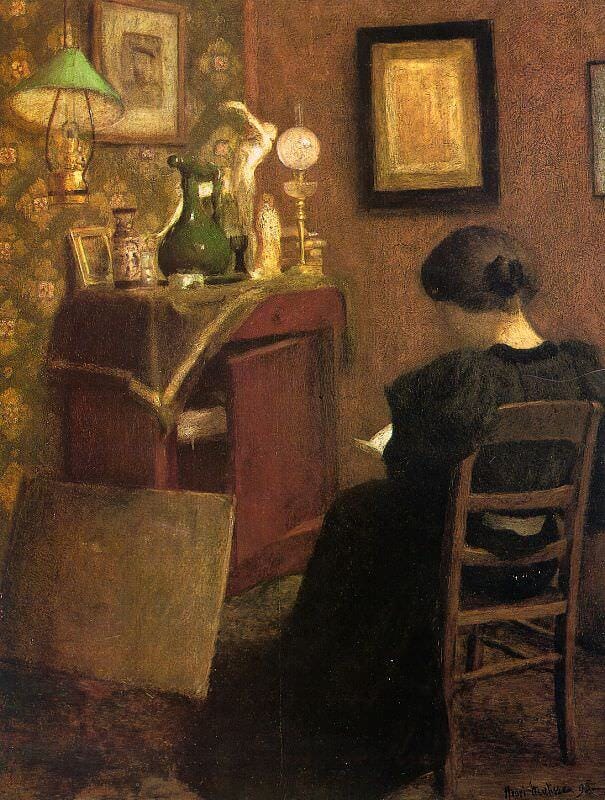



Zara,
Eu lia muito quando criança, principalmente livros com muitas imagens, e daí para os quadrinhos foi um pulo. Os quadrinhos, além de alimentar a minha cabecinha com histórias fantásticas, eram fonte de inspiração para reproduzir os quadros e as capas.
Depois disso, e além dos livros obrigatórios do período escolar, só voltei a ter um contato maior com a leitura no início da fase adulta, justamente por causa das aventuras do professor de Dan Brown. Em seguida, enjoei dele e nem consegui ler o Inferno, que está fechadinho em algum lugar por aqui.
Depois de alguns "vai e vens" da vida, senti a necessidade de reorganizar a leitura e os estudos de forma pessoal, em busca de autoconhecimento. Comecei, assim como você, a correr atrás do prejuízo.
Nessa busca, deparei-me com diversas informações sobre a "arte de ler", e uma delas chamou muito a minha atenção: a técnica da leitura ativa — aquilo que fazemos ao dialogar com livro e autor, usando qualquer forma de interação possível com o texto, entre elas, a marginália.
Isso impactou bastante, e hoje sigo aprimorando essa interação com o texto.
Não dá para estar em diálogo com o livro se estiver lendo "como paisagem" ou apenas para completar listas. Essa leitura requer paciência e, de certa forma, tem total relação com o que você disse no texto.
O @Renam Larentis escreveu um ótimo artigo que trata disso também: "Ler ou entender?":
https://renam.substack.com/p/ler-ou-entender
A sua busca e inquietação são a busca de muitos de nós que estamos por aqui. Ler o artigo só me fez sentir que, pelo menos em termos de esforço, estou no caminho certo. Vai ser difícil, mas é possível melhorar, nem que seja um pouquinho de cada vez.
Obrigado por compartilhar suas "inquietações" sobre o assunto.